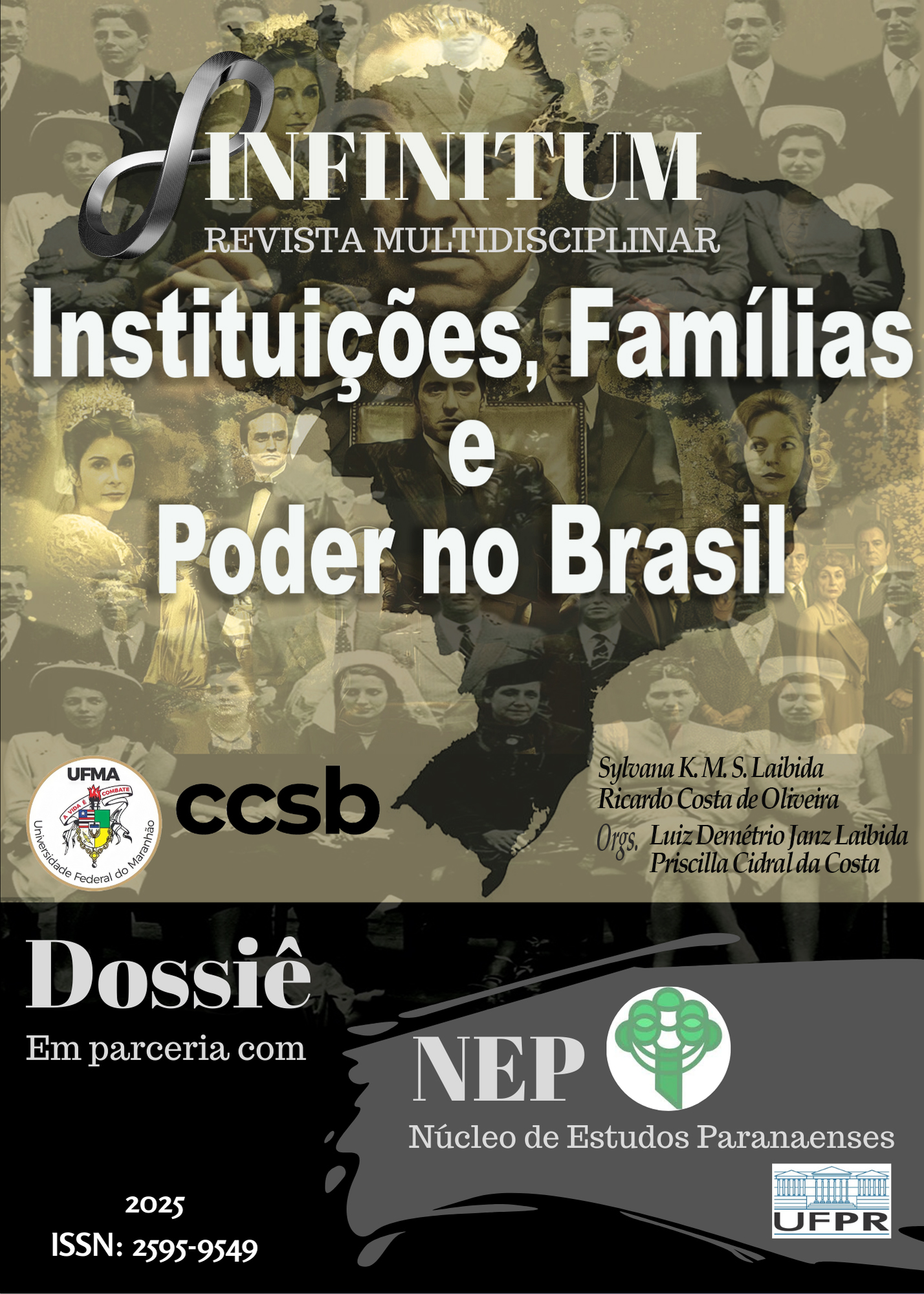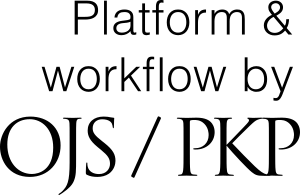A ordem multifamiliar como vetor determinista para a cultura do privilégio e as relações de poder no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.18764/2595-9549v8n18e27337Parole chiave:
Familismo, Patrimonialismo, Oligarquias, Nepotismo, PrivilégiosAbstract
Reproduzindo à exaustão e com maior intensidade a prática histórica herdada da tradição ibérica, o longo processo de formação da sociedade brasileira incorporou a seus elementos constitutivos a ordem familiar como fator distintivo nas relações sociais e políticas do país, que foi se estabelecendo como padrão e regra não formal, modelada pelos interesses da Coroa portuguesa e de seus muitos beneficiários. Profundamente arraigada na sociedade ibérica, particularmente em sua porção lusitana, a cultura do privilégio era concebida como uma espécie de identidade de classe, restrita à nobreza e suas derivações (fidalgos de todas as espécies), de tal forma que os contemplados segregavam os não aceitos, que, a propósito, representavam a imensa maioria da população portuguesa. O “pacote de privilégios” dedicado aos eleitos do reino era extensivo à família, assumindo trajetórias de aplicação em todas as direções (ascendentes, descendentes, laterais) e desdobramentos (alcançando os mais diversos vínculos de afinidade, até mesmo agregados), bem como se constituindo em patrimônio de transferência para herdeiros e apadrinhados, consagrando a ordem familiar como a célula estrutural da vida em sociedade, não por uma determinação de valores cultivados na dimensão ético-formativa, mas puramente com o propósito de assegurar o respectivo quinhão de regalias e benefícios públicos, para fruição na esfera privada e de forma hereditária. Habitando de forma permanente o território lusitano d’além mar e bradando duvidosa proximidade de El-Rei, os prepostos do colonizador, distantes dos olhos da realeza e ávidos por se cobrirem das bajulações próprias do universo que gravitava no entorno da monarquia, não se contiveram em importar e implantar nestas terras a cultura do privilégio, reservada a distintos grupos e famílias que se instalaram ou se desenvolveram naquele cenário, distante de mecanismos de controle efetivo e de qualquer referência a padrões avançados de civilidade. Predominante na Colônia, ativo no Império e sufocante na República, a cultura do privilégio como um fim em si mesma assumiu ares de unanimidade e objeto de desejo, deitando raízes de tal forma e abrangência que se consagraria como uma verdadeira instituição nacional, espelho de distorções, desvios e degenerações diversas. Gozando do beneplácito da solidariedade acumpliciada de pares e parceiros de classe, resistiria à modernidade e à institucionalidade flexível, e seria mantida no país como uma reserva de privilégios destinados a poucos e integrantes de famílias que se perpetuariam nos mais diversos segmentos da vida social — na política, no Judiciário, nas carreiras de Estado, nas Forças Armadas, nas representações diplomáticas, no meio acadêmico, enfim, expandindo-se de forma difusa, mas sem comprometer a restrição do critério oligárquico-familial.
Downloads
Riferimenti bibliografici
ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2019.
ALENCASTRO, Luís Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul – séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões do Padre José de Anchieta (1554-1594). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1933.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007.
BRASIL. CNMP – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Nepotismo e nepotismo cruzado: critérios de controle. Sítio eletrônico do CNMP. Orientações publicadas em 20 de março de 2017. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/nepotismo-e-nepotismo-cruzado-criterios-de-controle. Acesso em: 30.abr. 2024.
CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El-Rey D. Manuel. Acervo histórico do Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. [s.d]. Disponível em: https://purl.pt/162/1/brasil/obras/carta_pvcaminha/index.html . Acesso em: 3.mai. 2024.
COSTA, Emília Viotti. A abolição. 9. ed. São Paulo: UNESP, 2010.
DAMATTA, Roberto. Você sabe com quem está falando?: estudos sobre o autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Editora Globo; Publifolha, 2001.
FERNANDES, Aníbal de Almeida. Nobreza brasileira e dinastia Bragança. Portal Genealogia e História. Postagem atualizada em fevereiro de 2023. Disponível em: https://www.genealogiahistoria.com.br/index_historia.asp?categoria=4&categoria2=4&subcategoria=227. Acesso em: 2.mai. 2024.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 48. ed. rev. São Paulo: Global, 2003.
GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense, 1991.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo; Companhia das Letras, 2012.
MALERBA, Jurandir. A corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência (1808-1821). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira: 1890-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
NOZAKI, William. A militarização da Administração Pública no Brasil: projeto de nação ou projeto de poder? Estudo acadêmico. Brasília: Fonacate – Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, 2021.
OLIVEIRA, Ricardo Costa de. O silêncio das genealogias: classe dominante e Estado no Paraná (1853-1930). 2000. 495 f. Tese (Doutorado em Sociologia), Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2000.
OLIVEIRA, Ricardo Costa de. Na teia do nepotismo – sociologia política das relações de parentesco e poder político no Paraná e no Brasil. Curitiba: Editora Insight, 2012.
PASSIANI, Enio. Não existe pecado abaixo do Equador? Algumas considerações sobre o processo de formação da sociedade de corte no Brasil (1808-1889). Revista Sociedade e Estado. V. 27, N. 3, setembro/dezembro 2012. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/5683. Acesso em: 3.mai. 2024.
PRADO, Eduardo. Fastos da ditadura militar no Brasil. Brasília: Senado Federal, 2014.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
ROSA, Milton Figueiredo. O nepotismo veste farda. Sítio eletrônico do portal Jacobin. Matéria publicada em 24 de maio de 2024. Disponível em: https://jacobin.com.br/2022/05/o-nepotismo-veste-farda-2/. Acesso em: 30.abr. 2024.
SANTIN, Janaína Rigo; CARDOSO, Leonardo. Nepotismo e práticas clientelistas: uma visão histórica do poder local no Brasil. Estudios Históricos. Ano VIII, N. 16. Julho/2016. Uruguay. Disponível em: https://estudioshistoricos.org/otros/n16.html. Acesso em: 1.mai.2024.
SANT’ANNA, Pietro. Hermes da Fonseca: um mandato, duas revoltas. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2019.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; COSTA, Ângela Marques da. Como ser nobre no Brasil. Manuais de bons costumes: ou a arte de bem civilizar-se. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da solidão: uma história de São Paulo das origens a 1900. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.
TOCQUEVILLE, Alexis de. O antigo regime e a revolução. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5. ed. São Paulo: LTC, 1982.
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. 18. ed. São Paulo: Cultrix, 2003.
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
A Infinitum: Revista Multidisciplinar está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.